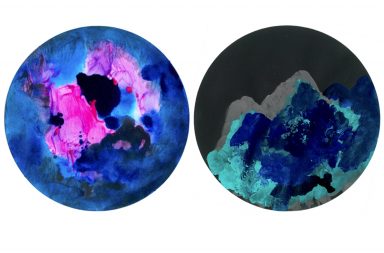“Um poema pode ajudar a ser melhor pessoa”. São iluminações como esta que Ana Luísa Amaral nos traz no voo das palavras, súbitos relampejos com que a sua voz, ao mesmo tempo atroante e melíflua, compassa a entrevista. Mas o júbilo poético não dissimula a contundência na crítica à desumanização da sociedade e ao funcionamento do sistema académico, que, em sua opinião, desvaloriza as Humanidades. Porque “são vistas como aquilo que não é necessário”, acusa. Um contrassenso, considerando que “uma universidade tem a obrigação de ajudar a pensar”.
Nascida em Lisboa em 1956, mas a residir desde os nove anos em Leça da Palmeira, Ana Luísa Amaral é uma das autoras mais importantes da literatura portuguesa atual, com obras de poesia (traduzidas para várias línguas), teatro, literatura infantil e agora romance, “Ara”.
A atividade literária convive com a docência e a investigação na FLUP, onde se licenciou em Filologia Germânica e se doutorou em Literatura Norte-Americana (tese sobre Emily Dickinson). As suas áreas de estudo preferenciais são as Poéticas Comparadas, os Estudos Feministas e a Teoria Queer.
Na apresentação do seu primeiro romance, “Ara” (Sextante Editora, 2013), Isabel Pires de Lima disse tratar-se da obra de uma “poeta numa missão para se tornar ficcionista”. Concorda com esta afirmação?
Com a ideia de missão, seguramente não concordarei. Não tenho exatamente uma missão. Eu sei o que a Isabel quer dizer. Quando fala em missão, no fundo quer dizer um gesto de paixão. A tentativa de perseguir uma ideia, de perseguir uma obsessão. Nesse sentido, eu tentei espalhar a palavra, entre aspas, do romance. Mas não é do romance tal como ele normalmente se exibe.
Como podemos, então, definir este seu último livro?
Não é um romance no sentido estereotipado ou tradicional do termo. O modernismo já fez isto. Virginia Woolf, em “Ondas”, por exemplo, já exercita a ausência de personagens, insistindo nas vozes. E, no caso português, o Nuno Bragança [com] “A noite e o riso”. Se penso em Woolf e em [James] Joyce, por exemplo, a questão dos géneros [literários] estáticos ou estanques deixa de se colocar.
Houve uma vontade consciente da sua parte de explorar as possibilidades do romance enquanto género literário?
Quando compus o livro, sim. Quando o escrevi, não. Porque são coisas diferentes. Não pensei assim: “Agora vou escrever algo em fragmentos”. Escrevi e pronto. E depois de ter tudo escrito, eliminei umas coisas, revi outras e tentei dar-lhe a minha organização – as minhas consonâncias dentro daquilo que eu sabia ser completamente dissonante. Eu não sabia muito bem o que isto era… Via isto [o livro] um bocadinho desviado daquilo que se vê. Isto poesia seguramente não é. Mas também tem poemas e até tem, por vezes, uma certa cadência decassilábica. Também tem capítulos que até podiam ser considerados pequenos contos. Mas não são contos também. E quando eu disse, “não sei o que isto é”, a Maria Velho da Costa disse-me: “Isto é muito bom e é um romance”. E, pronto, ficou um romance.
O que é que a levou a escrever neste formato? Já tinha esta ideia de romance na cabeça?
Não, não tinha. O que me levou a escrever neste formato é aquilo que sempre me tem levado: uma paixão imensa, tremenda, que eu tenho pela palavra em todas as suas formas. Acho que a questão das vozes sempre esteve na [minha] poesia. [Mas] não escrevi estes textos nesta cronologia em que estão. O que eu tentei foi que, de vez em quando, aparecessem nós, pontos, pequenas iluminações que iam surgindo ao longo dos textos, como, por exemplo, a palavra “japoneiras”.

Ana Luisa Amaral. (Foto: Egidio Santos/U.Porto)
Amar a palavra
O que é que foi transposto da sua poesia para o romance?
Tudo. A minha poesia está aqui [em “Ara”], porque eu estou aqui. Eu sou também a minha poesia. Acho que isto já estava anunciado como prosa, na minha cabeça. Tudo se preparou para a “Ara”. Depois de uma peça, “[Próspero morreu,] Poema em acto”, depois de “Vozes” – que tem que tudo: sonetos, passando por verso livre, pela redondilha, pelo glosar do trovadorismo, – a ficção… Está aqui tudo. Inclusivamente, há excertozinhos que vêm do livro “Entre dois rios e outras noites”; há um texto, “Discrepâncias (a duas vozes)”, que já estava em “Se fosse um intervalo”. Devo dizer que este livro tinha cerca de 180 páginas e depois passou para 80. Cortei uma peça que tinha cá dentro.
Disse numa entrevista que só publicou tardiamente, aos 33 anos, porque tinha “medo de perder uma certa inocência com a palavra”? Agora que se aventurou no romance, esse medo não sobreveio?
Sobreveio muitíssimo. Sendo um outro registo, eu também tinha medo de a perder [a inocência], porque ela existia escondida e [só] mostrada a algumas pessoas. É claro que [o medo] foi menor do que em 1990, quando publiquei “Minha senhora de quê” [a sua obra inaugural]. E, por outro lado, o medo da exposição. Não sabia bem se as pessoas iam gostar… Quando o livro é lido e, portanto, reescrito por outros olhos é uma incógnita. Não sei se esses olhos vão olhar para ali da mesma maneira [que eu]… As pessoas dizem que não se importam com as críticas, mas não é verdade. Porque, para todos os efeitos, é o nosso trabalho, não sendo a nossa profissão. A minha profissão é outra: sou professora. Sou amadora nisto porque amo a palavra. Era Clarice Lispector que dizia isto.
Ara” é um romance exigente, que estabelece, como disse também Isabel Pires de Lima, um “pacto com o leitor”. Havia essa intenção?
Há sempre a consciência da existência dos leitores, que respeito profundamente. Mas isso não significa que escreva a pensar se os leitores vão gostar, se os leitores vão aprovar… Porque, então, seria escrever de acordo com aquilo que se sabe ser o gosto do tempo. E isso é muito complicado e perigoso. O “pacto com o leitor” é com o leitor virtual, que em última análise sou eu mesma. Eu leio-me também. E sei, quando escrevo um poema, se o poema me satisfaz ou não. Isto não significa que, quando ponho um livro cá fora, saiba de antemão que as pessoas vão gostar.
Não sabia bem se as pessoas iam gostar… Quando o livro é lido e, portanto, reescrito por outros olhos é uma incógnita. Não sei se esses olhos vão olhar para ali da mesma maneira [que eu]…
Este romance, tal como a sua poesia, tem muitos elementos da sua vida. Podemos dizer que é um romance biográfico ou essa leitura é excessiva?
A literatura – mais a poesia, porque toca de forma mais aguda o inconsciente – é sempre biográfica: faz parte da vida de quem a escreve. Depois tem, naturalmente, filtros, senão era só um grito de alma. Não é autobiográfico este romance. É biográfico como os meus poemas são biográficos, como eu acho que grande parte da poesia é. O que ficou da vida nos poemas são rastos. É sempre isso que fica nos poemas ou no romance. São rastos que ligam à vida.
O romance tem como núcleo central uma história de amor entre mulheres, o que não é muito comum na literatura portuguesa. Houve a intenção de abordar especificamente o amor sáfico ou foi apenas um pretexto literário para tratar o amor universal?
A mensagem central do livro é: ”Vergonha é não amar”. Eu entendo que o amor é o amor. O tratamento do amor entre mulheres é um gesto poético, mas é também um gesto político. Não há razão nenhuma que justifique que as pessoas [homossexuais] sejam discriminadas, que sejam olhadas como anormais ou como incapazes. Ao mesmo tempo, o mundo está a passar por estas políticas neoliberais, em que meia dúzia de pessoas detêm todo o poder. Nós estamos a viver uma guerra contra as pessoas. Isso é que é uma vergonha. No fundo, foi isso que eu quis dizer: amar nunca é uma vergonha. Amar é amar. Não vejo razão nenhuma para que isto [questão da sexualidade] seja colocado abaixo da questão da classe, abaixo da questão da raça, porque atravessa tudo.
“Visitada” pelos poemas
Neste seu romance há também muita crítica social. No atual contexto do país e do mundo, os escritores ainda podem eximir-se à intervenção política, quer através das suas atividades públicas, quer através das próprias obras?
Acho que [a intervenção política] é uma obrigação, um dever quase, numa Europa que eu temo muito que entre novamente numa guerra. Guerra económica já temos. Guerra social já temos… E mais: insistir nesta questão do amor. O meu pai, que era um homem de direita, disse-me uma coisa lindíssima quando eu estava a aprender a conduzir (naquela altura, podíamos ter lições com um encartado ao lado): “Minha querida filha, num stop deixa sempre passar um. Se se deixar passar um, o trânsito flui”. Isto é uma coisa que pode até parecer banal, mas não é. É uma grande liçãode vida, porque, se todos deixarmos passar um carro, de facto o trânsito flui. Mas não é só isso que acontece. As hipóteses que a pessoa que [se] deixou passar repita esse gesto são muito mais altas. [Gera-se] uma cadeia de bondade. Acho que é importante também, ao denunciarmos, acreditarmos que o ser humano é maravilhoso. Eu acredito. [Porém], a poesia não tem que ser como a pensou o neorrealismo. Não tem que ser comprometida, falando direta e explicitamente daquilo que está a acontecer. Mas a própria poesia lírica pode ser um gesto de resistência àquilo por que estamos a passar.
Numa altura em que as pessoas têm dificuldade em suprir as necessidades mais básicas, que espaço há para a poesia e para a cultura em geral nas sociedades atuais? É um luxo ou será, pelo contrário, uma necessidade básica?
Não é um luxo. Acho que é uma necessidade básica. O papel da arte pode ser não só o de preservar memórias, que é uma coisa fundamental, mas também [o de] acarinhar algo de que precisamos muito nesta altura de crise, que é a beleza. De facto, as coisas à nossa volta estão tão feias, há tanta descrença, tanta desconfiança, tanta crueldade institucional – falo, obviamente, das instâncias de poder –, tanta injustiça, que nós precisamos disso [da beleza]. Necessitamos de um antidoto qualquer contra isto. A literatura pode ser uma parte deste antidoto. Pode ser, e deve ser, um espaço de liberdade. Sem agenda. Mas é um espaço muito ameaçador para o status quo, porque o dominante quer as coisas muito certinhas, muito bem encaixadas.
Uma palavra recorrente no seu romance é “dissonância”. A dissonância está muito presente na sua vida e na sua obra literária?
Acho que a dissonância é uma outra forma para dizer uma palavra que aparece muito na minha poesia: avesso. Avesso não é o contrário. É aquilo que não está exatamente acertado, compassado, equilibrado… É o dissonante, justamente. “Ficar de noite no avesso das coisas” [in “Se fosse um intervalo”]. A ideia da solidão das coisas. A consciência de que, em última análise, nós estamos sempre sós. Nascemos sós e morremos sós. A morte é uma coisa que me persegue, me assusta, me aterroriza… Estar do avesso está presente na minha obra e na minha vida também, porque eu estou sempre um bocadinho ao lado. Não sou muito consonante, não me considero uma pessoa muito de acordo. Há um lado meu rebelde, transgressor, subversivo… Sempre houve. Sim, eu não gosto de estar no redil. Nunca gostei.
Acho que [a intervenção política] é uma obrigação, um dever quase, numa Europa que eu temo muito que entre novamente numa guerra.
Obedece a algum método na sua escrita? É um processo racional ou surge de um momento de iluminação?
Não, não tenho [método de escrita]. O [William Butler] Yeats tinha horário de trabalho. Eu não tenho horário de trabalho, até porque o meu trabalho é a Faculdade. Não me sento [a pensar]: “Agora vou escrever”… Tenho a sorte de ser visitada pelo poema. E, felizmente, tenho tido muitas visitas. Às vezes, não fico nada à espera [de ser visitada pelo poema] e aparece-me uma imagem. Vou-lhe dar um exemplo. Eu estava a fazer o “Dicionário da Crítica Feminista”, com a Ana Gabriela Macedo, e uma vez o Paulo [Eduardo Carvalho], na varanda da minha casa (estava muito vento), disse-me assim: “Vocês não têm a palavra silêncio no dicionário? Num dicionário de crítica feminista, silêncio é uma palavra fundamental”. E eu disse: ”Ai, Paulo, mas é tão difícil. N o queres fazer o silêncio comigo?”. O que eu queria dizer era: “Não queres fazer a entrada para silêncio comigo”. E, de repente, [eu] disse-lhe assim: “Isto dava um poema”. E saiu um poema, que começa: “Não queres fazer o silêncio comigo? / Sobressalta-se um pouco uma varanda / e acrescenta-se: vento”. Portanto, [o poema] pode aparecer assim.
Qual é a sua matéria-prima principal enquanto poeta: a razão ou as emoções?
As duas coisas. Não posso separar [as duas coisas]. “O que em mim sente está pensando”, dizia o outro [Fernando Pessoa]. Depois, [António] Damásio provou, neurologicamente, que nós não conseguimos pensar sem emoção. As feministas já andam a dizer isto há muito tempo: essa coisa cartesiana das emoções para um lado e da razão para o outro é um disparate muito grande. O que me inspira – assumo a palavra “inspira”, não me importo (risos) – é a vida. Tudo pode ser objeto de poesia. Uma cebola pode ser tão poetável como o amor.

Ana Luisa Amaral. (Foto: Egidio Santos/U.Porto)
“Uma universidade tem a obrigação de ajudar a pensar”
De que forma é que a experiência de mais de 30 anos de ensino e investigação na Faculdade de Letras da U.Porto (FLUP) se reflete na sua obra literária?
Ui, deu-me tanto, tanto [o ensino na FLUP]… Pontualmente, tem-me dado poemas, por exemplo. Eu tenho, em “Coisas de partir”, um poema que se chama “Reais Ausências”. “Não há rainhas, não. / Quando se fala em mitos, é sempre Artur / ou D. Sebastião…”. Depois: “Até Henrique VIII com muito mais élan do / que Isabel: mandou cortar cabeças como couves / e expandiu albiónico quintal”. É um poema jocoso, feminista. Eu nunca teria escrito este poema, se não me tivesse sido dito para dar Cultura Inglesa. [Mas] não sinto lealdade para com literatura nenhuma. Posso ser devedora de qualquer literatura. Sou leal à ideia de literatura, e não só à literatura portuguesa. Maravilha–me “Um não sei quê, que nasce não sei onde; / Vem não sei como; e dói não sei porquê” [Luís Vaz de Camões]. Mas também, por exemplo, “Macbeth”, de William Shakespeare: “Life’s but a walking shadow”. Mas também [William] Blake, esse tigre “burning bright / In the forests of the night”. Mas também Emily Dickinson, a dizer “That Love is all there is, / Is all we know of Love”. Tudo isto me maravilha, me espanta.
Recentemente, lamentou a dificuldade de compatibilizar o ensino, a investigação e a relação com a comunidade. Porque é que surgem estas dificuldades e como podem ser ultrapassadas?
Cada vez mais, nós nos deparamos com burocracia. Não há professor nenhum com quem fale, na U.Porto, que não se queixe disto: não tem tempo para fazer investigação. Então no caso das Humanidades… que estão a ser tão maltratadas, porque não dão lucro. O tempo dos professores tem vindo a ser exaurido por tarefas que têm muito pouco a ver com eles, porque nós não fomos treinados para ser burocratas. Todos os centros de investigação têm de concorrer com projetos… É diabólico! O formulário [da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia] é absolutamente diabólico.
O tempo dos professores tem vindo a ser exaurido por tarefas que têm muito pouco a ver com eles, porque nós não fomos treinados para ser burocratas.
Estamos há não sei quantas reuniões para preencher aquele formulário! Tudo se está a sujeitar a esta ideia de indicadores, de números, de rentabilização. Que seleção é que estamos a fazer, por exemplo, para que as pessoas entrem nos mestrados ou nos doutoramentos? A seleção que fazemos tem muito a ver com a capacidade que as pessoas têm de suportar [financeiramente], ou não, o mestrado ou o doutoramento. A forma como a avaliação é feita nas universidades é meramente quantitativa. Isto provoca a ideia de competitividade: quantos mais artigos [científicos] tiver, melhor. Se tiver cinco, fica à frente daquele só tem um, ainda que esse [artigo] seja absolutamente extraordinário. O que é que se privilegia realmente? É o número, em vez de ser a dedicação, a originalidade, a criatividade, a capacidade de comunicação…
Acha que o sistema académico português tende a privilegiar as áreas tecnológicas e as ciências exatas em detrimento das Humanidades?
Claro, as Humanidades são completamente desvalorizadas pelo sistema, porque são vistas como aquilo que não é necessário. [Ora] as Humanidades são absolutamente fundamentais. A Filosofia não dá dinheiro mas ajuda-nos a pensar, a ser melhores pessoas. Acredito profundamente nisto. Um poema pode ajudar a ser melhor pessoa.
A sociedade inclusiva é uma das coisas dos formulários da FCT. Mas que sociedade inclusiva? De que inclusão falamos quando as Humanidades estão a ser excluídas? Não desvalorizo, pelo contrário, as chamadas ciências “duras”. Mas porque é que o pensamento em si – a capacidade de estabelecer ligações e de, a partir dessas ligações, inventar, especular, pensar o mundo, pensar-me a mim e aos outros no mundo – há de ser desvalorizado? As próprias artes… para que é que servem? Servem porque o belo é fundamental. O ser humano vive do simbólico. Se eu retirar ao ser humano o simbólico, o que é que nós somos? Transformamo-nos em quê? Acho que há, escondida talvez, uma espécie de agenda à qual interessa, realmente, que isto aconteça, porque é muito mais fácil dominar povos incultos. É tão conveniente ter povos que não pensem. Se as pessoas não pensarem, são mais manobráveis. E uma universidade tem a obrigação de ajudar a pensar.
Na sua atividade docente e de investigadora tem dedicado muita atenção aos Estudos Feministas. De que é que falamos quando falamos de Estudos Feministas?
O feminismo, para mim, não é as mulheres a queimarem sutiãs, não é as mulheres a odiarem os homens… É tão-só uma questão de direitos humanos. Tomara eu que não fosse necessário dar Estudos Feministas. O problema é que eu acho que é fundamental, enquanto no planeta continuar a haver mulheres que são queimadas vivas, apedrejadas até à morte por adultério, crianças do sexo feminino a quem é cortado o clitóris… E enquanto aqui, em Portugal, a violência doméstica continuar a aumentar. Quantas mulheres são mortas, mortas (!), por pancada dos maridos!? Enquanto isto acontecer, eu acho que é necessário trabalhar em Estudos Feministas.
“O feminino é um estereótipo”
Mas, em concreto, quais são as matérias da sua cadeira Dos Estudos Feministas à Teoria Queer?
Na minha cadeira dou a evolução dos movimentos [feministas] e depois dou textos de referência, teóricos e também literários. Uso as “Novas Cartas Portuguesas” [de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa] como texto aglutinador quer dos Estudos Feministas, quer da Teoria Queer, que emerge nos anos 90 e trabalha a questão das identidades. Eu tento aplicar isto [a obra] quer às identidades sexuais, quer às próprias identidades do género literário. As “Novas Cartas Portuguesas” [Ana Luísa Amaral coordena o projeto “Novas Cartas Portuguesas 40 Anos Depois”, envolvendo 13 equipas internacionais e mais de 15 países, e foi responsável pelas anotações da reedição da obra, em 2010] não são nada e são tudo ao mesmo tempo.
A velha questão da existência de um “feminino” e de um “masculino” na literatura tem algum sentido? Há uma escrita feminina, enquanto identidade social e literária, ou tão-só mulheres que escrevem?
Eu discuto muito isso nas minhas aulas e não cheguei a conclusão nenhuma. Há alturas em que acho que sim, [mas] a maior parte das vezes acho que não. O feminino é um estereótipo, sempre. Já [Simone de] Beauvoir dizia: “Ninguém nasce mulher; torna-se mulher”. Costumo dar o texto “O Corpo”, das “Novas Cartas Portuguesas”: “Ali estava o seu corpo adormecido…”. O corpo é descrito como algo muito suave, etéreo. E eu pergunto: “Este corpo é de homem ou de mulher?”. E quase toda a gente me diz que é um corpo de mulher, porque é doce, é suave… E, de facto, é um corpo de homem.
“Este corpo é de homem ou de mulher?”. E quase toda a gente me diz que é um corpo de mulher, porque é doce, é suave… E, de facto, é um corpo de homem. “
Nós habituámo-nos a estes campos semânticos, a estes sentidos dados ao feminino e ao masculino. Não sei se as mulheres, por uma questão cultural, histórica e social, não privilegiam certas temáticas. Mas não sei se isso tem a ver com o corpo, com o biológico. E não tenho maneira de saber, porque o histórico, o cultural e o social ainda é um espaço de desigualdades. Como não foi erradicada essa parte, não tenho maneira de ver se, tal como algumas feministas francesas defendem, as mulheres, por causa dos ritmos corporais, dos ciclos, de poderem dar à luz, têm em relação ao mundo um olhar diferente. Não sei se têm, sinceramente.
Os estudos feministas são devidamente valorizados quer pela Academia, quer pela sociedade em geral?
Não tanto quanto deveriam. Há países onde já não se fala em estudos feministas: está um bocadinho ultrapassado… Embora eu também não dê só estudos feministas; dou gender studies (estudos de género), porque no fundo os homens são também vítimas. Para a geração do meu pai, por exemplo, pegar numa criança era uma vergonha para um homem. Efeminava-o, digamos assim. Isso era uma perda para o homem.
De alguma forma, os Estudos Feministas ajudam a quebrar estereótipos masculinos?
Ai, eu espero bem que sim! Aquele feminismo que me interessa, sim, ajuda a quebrar estereótipos e nele os homens são também vítimas. Mas porque é que um homem não chora? A construção da masculinidade é uma questão que me interessa também, porque afeta todos os seres humanos. Somos todos diferentes uns dos outros, homens e mulheres. Já dizia o António Gedeão, “não há, não, / duas folhas iguais em toda a criação”. E é verdade. Isso é maravilhoso.
Disse-me que os estudos feministas não eram devidamente valorizados, mas eles têm grande procura por parte dos estudantes da FLUP…
Têm, têm. Nesta cadeira, que é de opção, tenho 51 alunos inscritos. Os estudantes, tal como nós, desejam a justiça.
Mas porque é que um homem não chora? A construção da masculinidade é uma questão que me interessa também, porque afeta todos os seres humanos.”
Justiça no que respeita ao direito à diferença?
Na defesa do direito às diferenças, nem sequer é à diferença, e na erradicação das discriminações. Acho que as pessoas são muito sensíveis a isto. Acontece, por exemplo, ter um ou outro aluno que vem um bocadinho de pé atrás. Isto aconteceu-me duas ou três vezes, e o que é engraçado é que, depois, as pessoas ficam convencidas. Quando eu falava há bocadinho da obrigação de cidadania [dos escritores], esse dever não tem que ser feito nos jornais. Pode também ser feito em sala de aula. Eu posso fazer isso como professora.